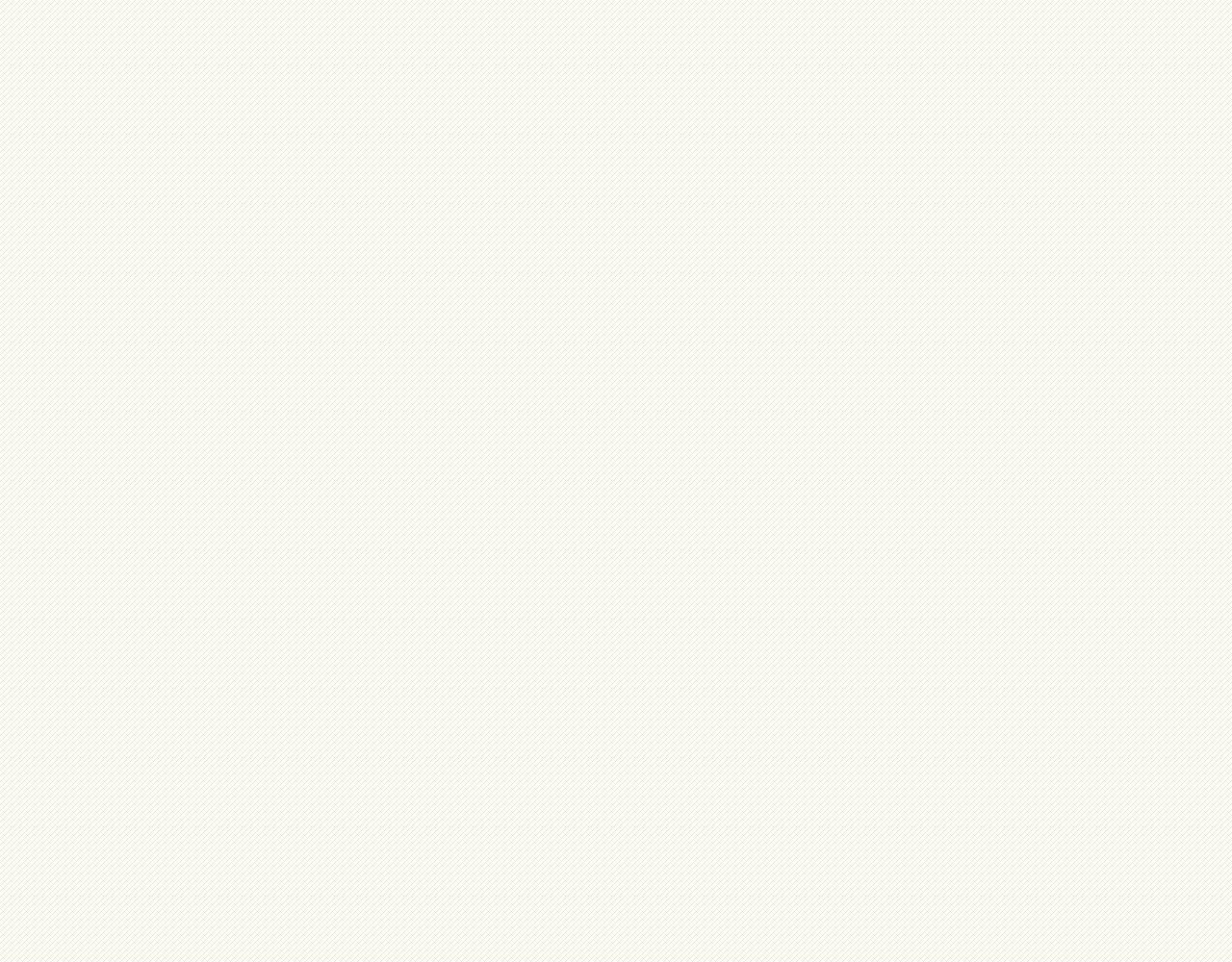
Crônicas
Além das crônicas referentes a personagens da cidade, nesta página, você pode ver outras do autor clicando na figura ao lado

Outro inverno, novamente frio e as festas juninas. Meu Deus, mais uma nostalgia! Lembranças da minha infância povoam a cabeça.
A primeira providência da minha mãe era fazer as nossas roupas de flanela para suportar a temperatura que baixaria. Fora isso havia toda uma movimentação em prol das festas juninas. A noite de São João era mágica. Em frente à casa havia uma gigante fogueira - todas as moradias do lugarejo tinham uma grande fogueira. Hoje não sei se era realmente gigante ou se a percepção de criança nos fazia perceber assim, imensa. Aliás, quando somos crianças, por sermos pequenos vemos tudo ao nosso redor em proporções gigantescas. O certo é que ela estava lá, gigante a arder e exibindo as labaredas que nos fascinavam na noite friazinha e às vezes com aquela chuvinha fina. Ao seu lado fincado à terra uma árvore também gigante que poderia ser uma bananeira, folhas de coqueiro ou outra qualquer compondo o cenário. E nós em volta dela, saltitantes, eufóricos, alegres, cheios de energia, escolhendo os fogos a serem tocados...Os meus preferidos eram os foguetinhos e os adrianinos que desenhavam no céu movimentos e cores que fascinavam os olhos. “Olha para o céu meu amor, veja como tudo está lindo...”
Em casa tinha de "um tudo": o bolo de tapioca feito com esmero pela minha mãe (o mais saboroso para mim), pamonha, amendoim, milho assado e cozido e a canjica, verdadeiro manjar dos céus! E não faltava o queijo Palmira para acompanhar todas as iguarias da festa.
A casa era arrumada no capricho. Balões e bandeirolas de papel de seda em todos os tons enfeitavam os cômodos e principalmente a varanda e a frente da casa. Participávamos dessa empreitada com satisfação e euforia. Cortávamos no formato de M as bandeiras que colávamos em fileira num barbante grosso que seria distribuído pelo interior e pátio da residência. O fato é que estávamos fazendo o que toda a população fazia, era um sentimento de pertencimento a uma comunidade, a um povo, a uma cidade que se articulava para os festejos juninos e decididamente fazer uma festa tipicamente caipira. E nesse processo todo me sentia importante e feliz, pois junto com minha irmã e meus pais nos engajávamos de maneira a preparar a casa para a festa que viria, uma grande festa.
A alegria era contagiante. Tinham os fogos, as musicas, a chuvinha fina, a comilança, os pedintes na porta solicitando um licorzinho e perguntado: “ São João passou por aqui”? Nós, vestidos a caráter e sem faltar a maquiagem... Bigode, cavanhaque e costeletas para os meninos e o batom rubro, patacas de ruge e pontos pretos nas bochechas para as meninas que usavam vestidos de floridos de caipira. Na cabeça dos meninos estavam o chapéu de palha comprado na feira do mercado e na das meninas as famosas “marias chiquinhas” amarradas com laços coloridos de fitas largas.
Não vemos mais um São João assim... Descaracterizou-se. São tantas as recordações que fico questionando se o tempo realmente passou ou se o São João mudou? Constato que os dois se foram, o tempo e aquele típico São João. Uma coisa parece certa, o friozinho não mudou e mais uma vez lembro-me do amanhecer do dia seguinte com a névoa matinal misturada à fumaça que vinha das últimas brasas das fogueiras. Naquele tempo com todo o frio tinha certeza de estar aquecido, embrulhado e feliz. Hoje me restam as lembranças para de uma forma amena aquecer os meus dias de frio e de saudade, saudade do São João das antigas.
Rubem Vilas Bôas
Salvador, 13 de junho de 2012
Frio, fogos, festa. É São João!
Bacurau

Outro dia, numa noite de lua cheia prateando as águas do mar d’aqui da Pituba, e eu diante dessa visão e a me balançar na rede, pensei nas histórias que minha Avó contava para mim e demais netos. O cenário me remeteu aquele tempo que ficávamos todos atentos e ávidos em escutar as narrativas misteriosas da Vozinha.
O imaginário infantil é povoado de figuras esdrúxulas que permitem a fantasia e eliciam os diversos sentimentos, do medo à curiosidade, em função do propósito de quem fala delas para as crianças. Existem tantas, a saber, do folclore, das crenças religiosas às figuras mitológicas locais de acordo a região e a cultura: mula sem cabeça, lobisomem, caipora ou curupira, saci, anjo da guarda, papai Noel, boitatá, sapo cururu etc. Escutava minha Avó falar de muitas delas, mas uma me deixava apreensivo e temeroso, o lobisomem. E o jeito como ela contava as historias, com detalhes horripilantes e gestual ..., desenvolvia em mim certo pavor e curiosidade. Apesar deu saber, de antemão, que se tratava de lenda, a forma como ela descrevia, me fazia acreditar em algo real. Ela dizia que era grandão, orelhudo, e uma farta cabeleira que caía até a testa, olhos graúdos e vesgos, braços longos e cabeludos se assemelhando aos membros de um lobo. Falava, também, que a transformação de homem em lobisomem, ocorria em diversas situações, como da família que só tinha filhos homens e que o sétimo seria lobisomem, ou o filho não batizado, quando crescesse se tornaria num lobisomem. Dizia que a passagem acontecia em noite de lua cheia e numa encruzilhada e que o monstro passava a perseguir pessoas e animais para se alimentar do sangue, e só voltava a sua forma normal no dia seguinte quando o sol raiava. Teve uma noite que ela narrou com tanta veemência e encenação que demorei a adormecer quando fui para cama. Andando pelas ruas do povoado, no dia seguinte ainda estava convicto da existência do lobisomem, e mesmo com o passar das horas e outra noite chegando, volta e meia a memória trazia a imagem do monstro. Num determinado momento que me encontrava na rua do cemitério, uma chuva forte caiu e eu busquei um abrigo me dirigindo a uma varanda de um casebre. Trovões e relâmpagos surgiram no céu e junto com eles percebi em minha direção, uma figura imensa, esquisita e tenebrosa, meio homem, meio bicho, que saía do portão principal do cemitério. Desesperado forcei a porta e adentrei a casa, e ao avistar um senhor gritei que um lobisomem estava vindo no meio da chuva, relâmpagos e trovões. Este senhor pediu para me assentar e me ofereceu um copo, saindo em seguida para verificar o que eu acabava de esbravejar. Segundos depois, retornou o senhor dizendo: “Oxe menino, tu ta variando! Tu não viu lobisomem coisa nenhuma, tu viu foi o Bacurau, coveiro que estava em serviço e, com a chuva inesperada e forte, saiu do cemitério em direção a um abrigo, para se proteger como tu, também.” Continuando falou: “ Aqui pra nós, confessou ele, não sei se ele parece com lobisomem, pois nunca vi um, mas que ele é feio e pavoroso, isso ele é.”Aliviado, após a chuvarada passar, segui para casa, mas daí para frente, todas as vezes que eu via o Bacurau em algum ligar, eu procurava imediatamente me afastar.
Da rede, observo a noite se estendendo, o sono batendo e as lembranças da Vozinha se esmaecendo. Dirijo-me para a cama e peço ao Morfeu que me conceda o direito de continuar com a imagem de Belinha nos meus sonhos, mas desta vez contando histórias de anjos da guarda, fadas e gnomos.
Rubem Vilas Bôas
Salvador, 6 de junho de 2014

Era um dia de verão e eu criança descia uma rampa entre plantas e córregos até vislumbrar uma fonte com diversas raparigas no ofício de lavar roupas. Imensos lençóis brancos estavam estendidos sobre a grama ao redor da nascente do rio Jacuípe para serem secos sob o sol escaldante de um dia ensolarado. Outras peças, também brancas, estavam imersas em caldeirões de água e anil, sobre tijolos como apoio, recebendo o calor de brasas incandescentes. Final de tarde, eu corria destrambelhado ladeira abaixo, sem short e camiseta e sentindo na pele o frescor da brisa e olhando curiosamente todos os detalhes da primeira cena que o mundo externo à minha casa me apresentava. Devia ter por volta de três anos. As raparigas riam e assuntavam os gritos de meu pai que me seguia e pedia para eu parar. Foi o primeiro momento de noção de existência que a minha consciência faz lembrar-me. Recordo da minha desenvoltura e rapidez descendo uma ladeira que dava numa espécie de chafariz com bicas expulsando água límpida e cristalina. É tão forte a imagem que chego a sentir o cheiro da relva e do esterco dos bois que pastavam nos arredores. Foi minha primeira incursão. Saí de casa provavelmente por algum descuido da minha mãe e o mundo à minha frente era constituído de elementos atrativos e fantásticos para a curiosidade de um infante que estava começando a descobrir a vida e ter o sentindo da existência. Não sei dizer como fui parar naquele espaço. Nascia eu, efetivamente ao encontrar a fonte da nascente. A vitalidade e ânsia do encontrar o que até então era desconhecido me levou aquele cenário bucólico e ao mesmo tempo cheio de informações, ficando como registro na minha memória. Junto com a traquinice de criança e o deslumbramento do novo, pairou no ar o grito de meu pai que com o cinturão na mão e passos mais rápidos e largos que os meus tentavam me alcançar. Com a força da autoridade e as palavras de repreensão, meu pai me fez retornar ao mundo privado do lar encerrando assim minha estréia ao mundo dos objetos e das idéias. Falo idéia porque a partir daí o sentido vai se formando na construção da existência e as idéias que permeiam as descobertas certamente auxiliarão na sedimentação de princípios e valores.
Rubem Vilas Boas
Salvador, agosto de 2013
A Fonte do Nascente
Dominguinhos em Berimbau

O século? Passado. A década? 80. O evento? Cantor e sanfoneiro Dominguinhos em apresentação no Clube Recreativo União de Berimbau na festa do São João.
Eis que surge Dominguinhos. Ao desembocar na praça do mercado, espaço da parada obrigatória dos carros que chegam à cidade, o sanfoneiro achou de estacionar o veículo em frente à casa de D. Ester Vieira, a costureira de brio da cidade. Logo, Dominguinhos, deu de cara com ela que estava em frente a sua moradia, na porta a contemplar a trupe que acompanhava o cantor, homens com zabumba, triangulo e sanfonas. Dominguinhos, notando o olhar observador da senhora, aproveitou-se da situação e perguntou: “Senhora, por obséquio, me diz, onde fica o clube da cidade”? Prontamente D. Ester respondeu apontando: “Na outra praça, logo após o BANEB, atravesse a rua e junto ao bar de esquina vai encontrar o que procura”. D. Ester curiosa perguntou de quem se tratava, Dominguinhos respondeu que era o cantor sanfoneiro que estaria se apresentando no clube da cidade logo mais, à noite, cumprindo a programação junina. D. Ester se arvorou com aquele encontro inesperado e inédito e de pronto o convidou para adentrar a sua casa e participar com ela da merenda da tarde: café com bolo de milho, canjica e pamonha. Convite irrecusável para um nordestino faminto e admirador das guloseimas da época. Abancou-se em volta da mesa farta e iniciou a degustação tendo como companhia a dona da casa e o seu filho Paulo. A notícia se espalhou. Em menos de 10 minutos a casa encheu-se com os fãs, familiares de D. Ester, todos encantados com aquele cara tão simples e gentil. Satisfeito, Dominguinhos agradeceu o café farto, despediu-se de todos e abraçou amistosamente D. Ester, convidando-a para assistir a sua apresentação ao cair do dia no clube da cidade.
A noite chegou todos os ingressos vendidos, a casa cheia, e a expectativa da platéia para ouvir o sanfoneiro Dominguinhos, pairava no ar com diversas manifestações de ansiedade dos fãs do cantor. De vez em quando ele se achegava por de traz da cortina e sutilmente, sem que ninguém percebesse, varria com o olhar o recinto para ter a confirmação de que D. Ester já se encontrava presente. A ansiedade aumentava, por parte dos expectadores, com assobios, palavras em alto tom, burburinho de conversas etc. Dominguinhos resolveu intervir, veio até a frente do palco, tomou o microfone e falou: “Pessoal, eu só começo a tocar quando D. Ester chegar.”
D. Ester logo chegou, Dominguinhos iniciou o show para deleite de todos da cidade de Berimbau...
Hoje Dominguinhos se foi deixando o reconhecimento de sua arte e uma legião de fãs que admiravam o sanfoneiro competente, humilde e carismático, e no caso especifico, a constatação de que o São João jamais será o mesmo, de que não se faz bolos como D. Ester e o Clube Recreativo União vai demorar a receber um sanfoneiro da “bexiga”.
Rubem Vilas Bôas, Salvador, julho de 2013
O velho Vanjú

Nos primórdios do povoado do Berimbau existia um senhor de idade avançada, pardo, de cabelos grisalhos, bigodes não aparados, fartos e cobrindo os lábios. Costumava usar chapéu, bengala ou guarda-chuva e um uniforme branco onde carregavam, nos bolsos largos e fundos do paletó ou casaca, bombons e caramelos que distribuía com a criançada quando em andanças pelas ruas. Todos o chamavam de Vanjú. Não sei ao certo o seu real nome. Seria Juventino, Juvenal, Angelo? Não sei! E também não acho que a corruptela tem a ver com a figura de anjo, pois apesar de promover satisfação e alegria às crianças, esta figura folclórica e tosca, metia mais medo que simpatia, pelo menos para mim. Aquelas crianças, quando não estavam nas ruas, se posicionavam nas janelas de suas casas a espera da passagem do velhinho bonachão que vinha com os bolsos cheios de balas que iriam adoçar as suas bocas. A amiga Mera era uma delas que, pontualmente, às tardes, se colocava de prontidão, aguardando a passagem do Vanjú em frente à janela de sua casa, quando lhe cumprimentaria e ofereceria os tais bombons e beijos “carrapientos”- segundo ela – devido o bigode grosso e “avassourado”. Ela diz, também, que o gesto era carregado de carinho, amor, altruísmo e pureza. Tenho impressão que crianças que ainda não soubessem dessa demonstração de gentileza, iria correr dele e não se aproximariam, pois na minha memória vejo uma figura tosca, esquisita e asquerosa. Não me lembro de ter recebido bombons. Na realidade, não tinha simpatia por ele, e mesmo percebendo um movimento de querer agradar as crianças do povoado, quando eu o percebia a sua aproximação, tratava imediatamente de me esgueirar do local e fugir do seu itinerário.
Lembro que ele morava numa casa grande próximo ao cemitério, num terreno descampado, onde convivia apenas com sua mulher velhinha e os empregados. A esposa vivia adoentada e isolada e nunca saía de casa. Naquela época, às escondidas – por que naquele tempo criança não participava de conversas de adultos - ouvi de pessoas que o casamento deles era de aparências, e que a fortuna do casal vinha da parte do cônjuge feminino, que tinha uma família abastarda, e mais, que ele quando jovem era um Don Juan e que levou ao sofrimento algumas famílias locais, por conquistar e iludir as moçoilas com promessas enganosas. Hoje, pensando bem, acredito que estas contingências, o comportamento desleal, por não ter filhos e outras culpas que o Dr. Freud explicaria com propriedade, ele distribuía as guloseimas, todos os dias, para aquelas crianças menos temerosas e, por outro lado, ansiosas por doces que receberiam, como forma de redimir-se dos seus pecados. Imagino que o velho Vanjú entendia que esta atitude para com as crianças e o carinho recebido em troca, por elas, com agradecimentos, gestos de afeto, beijos nas mãos e na face , o fazia sentir-se menos atormentado e compensando das suas faltas e que o seu lugar no céu estava garantido.
O velhinho, sem perceber, por agradar as crianças, passou a ser figura de destaque no cenário da cidade, além de fazer, efetivamente , parte da história de “Berimbau das Antigas”.
Salvador, 21 de maio de 2014.
Rubem Vilas Bôas
O sumiço da Falecida

Recebo pelo whatsap uma mensagem de minha irmã informando que a mãe de uma amiga em comum faleceu e que o velório seria na capela do Jardim da Saudade. Mais tarde vejo um post no facebook, completando a notícia, dizendo que o sepultamento ocorreria as 11 horas da manhã do dia seguinte. Outro falecimento de conhecidos no último mês do ano! Passei a pensar e refletir sobre vida e morte. Parece que quando ficamos mais velhos o número é maior de pessoas mais próximas que se vão. Talvez porque quando jovens estamos tão envolvidos com as demandas pitorescas da idade e porque supostamente ainda temos uma grande estrada a seguir e as pessoas que se vão estão numa idade mais avançada do que a dos jovens, que as mortes passam batido e nem nos damos conta da finitude da existência de nós humanos. O fato é que se esta constatação não tem fundamento estatístico, a impressão se faz presente quando notemos com certa frequência pessoas do nosso círculo de conhecimento, amizade e familiares partindo. Será que a nossa não tão jovem idade nos permite pensar e sentir assim porque quando jovens não temos o hábito de irmos a sepultamentos e quando passamos a ir, mais velhos, estamos defrontando com a nossa própria morte que algum momento ocorrerá?
Pensamentos à parte, por volta das 10 horas sai de casa com destino ao Cemitério da Saudade, para abraçar e confortar minha amiga. Chegando lá me dirigi imediatamente a floricultura para adquiri um buquê e ofertar a falecida, como minha última homenagem. Percebi que o cemitério não estava com o movimento esperado, o que me fez acreditar que o número de sepultamentos naquele dia, era menor, então perguntei a atendente quais as salas que estavam ocorrendo velório e aí ela me informou que até aquele horário só uma sala estava sendo ocupada me indicando em seguida o local. Caminhei até o espaço e vi o de habitual: pessoas em volta do caixão, e outras ao lado, na parte externa aguardando o final da oratória de um padre para então levar o corpo imerso em flores ao jazigo para o sepultamento. Procurei visualizar minha amiga, mas não consegui achá-la. Como o recinto estava muito cheio, aproximei-me com dificuldade para junto do caixão e em postura contida, escutava as palavras do reverendo. Controlei minha ansiedade, sabia que em algum momento eu iria encontrar a minha amiga e entrei de alma na cerimônia. Quando sai da minha imersão espiritual e passei observar, novamente as pessoas do entorno, notei que algumas pessoas olhavam para mim curiosamente e uma delas em determinado momento me perguntou se eu era parente ou amigo da família. Após o padre falar, em conversa com esta senhora que me abordou, fiz alusão a falecida: “Era uma pessoa tão amável, gostava muito dela!”. De pronto ela exclamou: falecida não, falecido! Oh! desculpe! Tentei corrigir-me. Confuso e incomodado fui até ao caixão e ao contemplar a face do defunto me dei conta definitivamente que se tratava, de fato, de um senhor aparentando uns 50 anos e não da mãe da minha amiga. Assustado e tenso, respirei fundo e tratei de sair do local, sem oferecer suspeitas do meu equívoco. Procurei colocar as flores próximo a uma coroa e caminhei para a parte externa, demonstrando sentir muito calor. Sorrateiramente me distanciei e fui até a administração. Lá eu conversei, buscando elucidar o que aconteceu, e dando o nome da falecida, quis saber se houve um velório e sepultamento naquelas 24 horas. O atendente consultou o computador e em seguida me esclareceu que o velório, sim, de concreto ocorreu, e que o corpo seguiu para uma cidade do interior por volta de 9 horas da manhã. Com o sentimento de frustração por não ter encontrado, abraçado e apoiado minha amiga, mas entendendo, retornei para casa.
Fiz algumas tentativas e finalmente consegui falar por telefone com minha amiga tentando passar para ela por palavras o que elas não substituem um abraço de conforto e empatia naquele momento de dor, e combinamos, oportunamente, quando do seu retorno à Salvador, nos encontrarmos.
Agora, um dia depois, fico a pensar: Que mico paguei! Entrei numa cerimônia de despedida de uma pessoa errada, levei flores, rezei, falei e quase até chorei e ao constatar o equívoco ao enxergar o defunto diferente, por um momento, imaginei que sumiram com o corpo da falecida que estava programado para ser enterrada as 11 horas daquela manhã. Sorri com acanhamento, afinal estou falando de gente querida que se foi! Em outro tempo, darei gargalhadas! Vida que segue!
Rubem Vilas Bôas
22 de dezembro de 2014

A casa em que vivi
Sempre que visito minha irmã, passo em frente à casa onde vivi parte da minha infância e adolescência e, em cada passagem, a lembrança daqueles dias remetia-me ao passado. Comecei a nutrir uma vontade enorme de rever o espaço. Outro dia, o desejo ofereceu-me coragem e ao andar novamente por aquela rua, bati na porta. Identifiquei-me, falei que aquela casa havia pertencido aos meus pais, que havia morado ali por duas décadas e que agora, depois de 40 anos, gostaria de fazer um tour por ela. Estava com saudades! A senhora que me atendeu, sensibilizada com o meu propósito, colocou a casa à disposição e convidou-me a entrar.
Meu olhar varreu todos os cômodos demoradamente, assimilando a atualidade, as alterações feitas e confrontando com a casa de outrora - na minha memória, bem maior. Observei tudo, detalhadamente! Agora, reformada e com tinta nova, em nada lembrava aquela de piso frio onde, nas tardes quentes de verão, para amenizar o calor, costumava me deitar. Percorri a primeira sala, os quartos da minha irmã e dos meus pais. Lembrei que, um dos cantos do teto, sob as telhas, era visitado por morcegos e que fazíamos de tudo para expulsá-los definitivamente, em vão, pois dias depois eles reapareciam. Passei pela segunda sala que me pareceu menor. Ali existia uma radiola. Nos dias de domingo meu pai exibia os poucos discos que tínhamos e ficávamos encantados e fascinados pelas vozes que surgiam através de um alto-falante, quando a agulha deslizava sobre o vinil. Tempos depois, o eletrônico foi trocado pelo rádio Telefunken onde seguíamos a programação oferecida pela emissora Radio Sociedade da Bahia. Em seguida, vislumbrei a copa... Esse espaço trouxe-me de imediato a imagem de minha mãe na parte da manhã a cantarolar, pedalando a máquina de costura, e mais tarde servindo o almoço preparado por Zezé, sob sua orientação. A imagem de meu pai surgiu também nesse momento. Sentado à mesa, de cabeleira negra e farta e uma pança saliente sob uma camisa folgada, conversando e degustando o menu do dia. Os pratos eram específicos conforme o dia da semana. Lembro-me do cozido às quintas e do miolo e fígado de boi às terças. Aos domingos, a refeição vinha acompanhada de cerveja para meu pai e refrigerantes para minha mãe e filhos. Desci mais um pouco e vi a parte detrás da casa que agora estava completamente modificada. Naquele espaço, existia uma imensa cozinha com uma pia, um fogão a gás, uma mesa e um grande pote de água num dos cantos. Continuei o itinerário, passando pela varanda em torno da cozinha e cheguei ao quintal que agora era apenas uma parte daquele outro com bananeiras, laranjeiras e outras árvores. O cheiro das flores do pomar... das laranjeiras e cajueiros, dos abacateiros e dos pés de pinha, das goiabeiras e coqueiros, que vinha dos arredores vizinhos, invadiu as narinas. Lembrei-me do quintal do Sr. Pavie, dentista de origem francesa, com um imenso pomar que fazia fronteira com o muro da minha casa. Cumprindo as transgressões permitidas veladamente, nós, crianças, pulávamos o muro, colhíamos e trazíamos algumas frutas que, mais tarde, quando maduras, saboreávamos.
As casas novas são diferentes. Práticas e confortáveis, não necessitam de tantos consertos, não têm goteiras em dias de chuva, fechaduras emperradas, quintais para varrer, madeiras para a água apodrecer, cupins, mofo nas paredes e pássaros visitando as varandas, nos acordando nas manhãs de sol ou bicando resíduos de alimentos em passeio pela cozinha e copa. Casas novas não têm carinho, histórias, lembranças, cheiro de vida e aconchego; são apenas subservientes às nossas necessidades materiais; habitações com todo aparato para atender à praticidade e ao conforto. São compactas, organizadas e sem expressão. Não escutamos um grilo forasteiro surgindo para desejar-nos boa sorte, nem o ranger de uma porta para dizer que o tempo está mudando e logo teremos ventania e chuva, nem os passos fortes e marcantes de um pai aproximando-se no final do dia.
Por um instante, no momento mais impactante, senti um cheiro... aquele mesmo que circulava pelo ambiente da casa em que vivi, um cheiro de casa velha, casa com alma, cheiro humano, cheiro de amor, zelo e leveza. Dei-me conta de que era o momento de encerrar minha visita. Caminhei até a porta de entrada que agora era de saída, e por um momento percebi que o portão de ferro no muro do jardim já não existia. Fechei o sentido da minha existência, ressignificando o presente a partir dessa breve conexão com o passado através da exploração de um espaço que tinha mais de saudade que curiosidade.
- Até mais senhora, obrigado pela cortesia.
E despedi-me de D. Glória.
Rubem Vilas Bôas
Julho de 2014

O Coreto da praça
Coreto é uma construção concreta num formato redondo, situada ao ar livre, em praças e jardins e tem como objetivo exibir bandinhas, comícios, eventos culturais ou qualquer louco que se disponha a esgotar o próprio surto num discurso que nas entrelinhas falaria das suas angústias e dores.
O meu coreto, entretanto, aquele da infância, tinha utilidades diferentes. Nele, dava vazão às brincadeiras com os primos e amigos da praça. Tinha o dia do pula-pula, do esconde-esconde, até do faroeste onde havia bandidos e heróis. Ao subir as escadas de cimento que davam acesso à plataforma superior, tinha a visão de um mundo maior e mais completo numa angular de 360 graus que me conferia status de poder. No mês de agosto, quando o vento era mais forte, para levantar as pipas em voos fenomenais que atingiam o infinito, era nele que trepávamos para o impulso inicial necessário. As festas juninas, da padroeira da cidade e da minha escola primária – a Sérgio Cardoso, tinham participações especiais naquele espaço mágico e imponente. Ele também servia de refúgio para minha alma angustiada em dias de inquietações e questionamentos, típicos do momento juvenil. Ali, quietinho, só e longe de todos, deitava de costas a fixar as nuvens em movimento que desenhavam imagens que se confundiam com as que eu trazia em mente. Eu as misturava ao mesmo tempo em que matutava sobre as minhas dúvidas, tentando entender o mundo a minha volta. Era assim que as cenas aversivas esmaeciam e eu recuperava a esperança e o otimismo. É isso mesmo! Crianças não vivem só de imaginação, fantasia e jogos lúdicos! Elas veem, observam, especulam. E mesmo querendo modificar alguns eventos, terminam aceitando que na resolução dos problemas, não têm muito ou nada a fazer. Aprendem que a solução é dar tempo ao tempo, acreditando na lição dos avós: “o que não tem remédio, remediado está”. Mesmo sendo, às vezes, muito difícil, compreendem que não tem outro jeito. Intuem que apenas o tempo e a maturidade poderão trazer explicações plausíveis - Quiçá!
De volta ao coreto, no dia do aniversário da independência do país, todos nós vestíamos branco, azul, verde e amarelo e, após desfilarmos pelas ruas da cidade, aguardávamos o encerramento do evento, geralmente com o pronunciamento de pessoas ilustres na cidade que poderiam ser o prefeito, um professor de renome ou um jovem inteligente da classe escolhido pelo professor. O coreto resplandecia, recheado de gente imponente exibindo no semblante o orgulho de ser patriota e brasileiro. O hino nacional era tocado pela bandinha e, nós, com a mão no peito, compenetrados, cantávamos cheios de emoção. Quando chegava a parte da letra que dizia: “Mas, se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme, quem te adora, a própria morte. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó Pátria amada! Dos filhos deste solo és mãe gentil, Pátria amada, Brasil!”, engolíamos o nó na garganta para não deixarmos as lágrimas molharem a face. Sim, daríamos a nossa vida pela nação querida, diferente dos maus exemplos que ocupam o cenário de hoje: políticos pseudo-patriotas que querem apenas encher seus bolsos em detrimento das necessidades do povo e da soberania da nação.
Em outra ocasião, o coreto se tornava cenário da festa da primavera comemorada pela escola da professora Maria José de Azevedo. O rei, a rainha e as princesas da estação das flores eram coroados em destaque sob aplausos dos súditos, colegas que promoviam grande louvação para eles. Certa vez, uma das princesas, no ato da celebração, teve seu vestido azul celeste de crepom manchado quando a emoção a dominou e a bexiga não segurou. A mancha no papel foi crescendo, crescendo, passando pelas escadas, descendo, descendo, chegando até a grama da praça quando a meninada gritava: “ Viva a rainha mijona! ”
O coreto da minha praça, da minha cidade, da minha infância, mais do que uma construção de concreto, um monumento comum, foi um espaço relevante e multifuncional no cenário da cidade e marcou a minha existência pueril. Hoje, no lugar dele, existe um outro, sofisticado, com uma cobertura arrojada, transparente e brilhante de cor azul celeste que permite a passagem dos raios solares que promovem um efeito bonito e moderno. Está na mesma praça, em frente à mesma igreja, sob o mesmo céu azul, mas sem vida, insosso e sem histórias para contar. Posso até ir a ele, vislumbrar o redor, fazer conjecturas promissoras, simular um discurso, cantar uma música para um transeunte, dançar um forró ou qualquer outra coisa, mas não sentirei as emoções do menino sonhador carregadas de alegrias, expectativas assertivas e esperanças maiores. No seu lugar estará apenas a constatação de que o momento é outro, de que o cenário mudou e de que o tempo passou.

Getulinho
Getulinho era o nome que a tia Candinha tratava seu marido Hermógenes. Talvez por ele ter o tipo do ex-presidente da República, Getúlio Vargas; baixinho, careca, troncudo, barrigudo, falante, conversador, chegado a discurso; perfil típico dos políticos. Isso mesmo! Getulinho era contador de “causos”, piadas, declamações, quando o humor ainda lhe permitia e a “Augusta” não se avizinhava. O tio Hermógenes era uma figura prosaica, divertida e bem-humorada. Com o passar dos anos, já na terceira idade, ele foi acometido de depressão que o deixava apático e que as pessoas, na época, não entendiam bem e chamava de angústia Na ocasião por difícil diagnóstico a doença se instalava e desenvolvia-se. Dessa forma, havia dias que ela tinha seu ápice e o deixava quieto, calado e contemplativo. Outros dias, quando se distanciava, ele se reanimava e passava a contar piadas, “causos”, satisfazendo os ouvidos de sua Fiinha (nome que o tio Hermógenes tratava a minha tia, sua esposa), amigos e parentes, tornando todos alegres. Tia Candinha costumava denominar essa doença do tio, de “Augusta”. Quando o via casmurro, ensimesmado, falava: hoje a “Augusta“ se apossou de Getulinho!
Anterior a essa enfermidade do Getulinho, os tios formavam um casal animado, divertido. A tia Candoca em parceria com o tio completava um par hilário. Ele sempre a paparicá-la e ela a fazer chamegos e falando alto, com gritos estridentes quando seus caprichos não eram realizados. As visitas a casa deles aconteciam invariavelmente nas segundas-feiras quando íamos à cidade de Feira de Santana.
Cidade do interior do Estado da Bahia, onde os tios moravam distante 105 km de Salvador, no dia de sua feira, às segundas-feiras se transformava num local cheio de novidades, gente e curiosidades. Ir até lá nesse dia era como hoje nós brasileiros, ir à Nova York, respeitando as devidas proporções. Víamos gente de todas as raças e costumes e de todos os lugares; frutas, bugigangas, curiosidades. Toda e qualquer novidade se encontrava na feira que se alastrava pelas ruas e praças da cidade. Costumávamos ir numa camionete de Walter, acompanhados de nossos pais ou minha Vó Bela. Quando não, na Lambretinha de Nizuca ou o carro que ele possuía na época (lembro da fobica, da Rural Wyllis e do Crysler). Chegando, íamos direto a Casa da Louça, uma grande loja comercial de propriedade do Getulinho, que como o nome já diz vendia louças, porcelanas nacionais e importadas das mais variadas marcas, das inglesas, chinesas até as schmdts oriundas do sul do país. Vendiam-se também lustres, abajures e todo material elétrico decorativo. Encontrávamos os tios. Por ser uma segunda-feira a tia se achava na loja a nos esperar. Éramos recebidos com contentamento e meu olhar perscrutador caminhava pelas prateleiras e vitrines a observar aquele mundo de objetos brilhantes e sofisticados. Procurava entre eles algum brinquedo, algo que o desejo da criança fosse satisfeito. Esse olhar investigativo e depois frustrado, certamente foi algumas vezes notado pela tia Candinha, pois me lembro que recebi de presente dela, calça jeans adquirida na Loja Pires. Em outra vez, recordo-me que o meu primeiro velocípede foi comprado pela tia numa dessas visitas que o olhar decepcionado se fez presente quando sondava as porcelanas da Casa da Louça.
Da loja seguíamos para a casa dos tios. Era hora do almoço. Antes, naturalmente, andávamos por toda a praça e ruas adjacentes a observar o mundo de coisas e o vai e vem de pessoas a negociar, barganhar e comprar objetos, alimentos, mantimentos, animais de cria etc. A cidade fervia de gente naquele calor infernal, na procura das mercadorias e da melhor oferta para a realização, finalmente, das aquisições. A casa dos tios ficava na Rua Castro Alves. Era uma casa grande de muitos cômodos decorada com móveis ingleses, estilo chipamdale. Vem a minha memória o relógio carrilhão que tocava a cada 15 minutos, que ficava sobre a cristaleira grande e pesada. O banheiro imenso, com banheira e mais imenso era a geladeira branca que guardava as “abafas bancas” (picolés feito de frutas), que eram servidos após o almoço e nas tardes de calor. E o quintal! Cheio de pitangueiras, abacateiros, pés de carambolas, goiabeiras. Na frente da casa existia um caramanchão com uma trepadeira de flores amarelas que dava passagem para o hall. Essa casa serviu, algumas vezes, de hospedagem para os grandes artistas que visitavam a cidade em turnês. Sei, contado por parentes, que eles tiveram oportunidade de hospedar Francisco Alves, Orlando Silva e outros cantores famosos da época.
O almoço nas segundas-feiras na casa dos tios era uma festa para nós crianças. Recebíamos também de brinde, chocolates franceses deliciosos e o tradicional sonho de valsa, no final da refeição. O almoço era sempre acompanhado dos “causos” contados pelo Getulinho e após o cafezinho servido, continuava a prosa para nos entreter. Lembro bem dele, a declamar uma estória de um caipira que se apaixonou por uma donzela que o preteriu casando-se com outro. Tio Hermógenes contava essa história representando-a e transmitindo emoção como se fosse o próprio caipira, a ponto de sensibilizar as pessoas e imprimir à minha memória a cena do matuto traído. Por ter escutado inúmeras vezes, relembro-a como se estivesse ouvindo agora. E para finalizar as lembranças posto aqui a dita história em versos. Ele dava o título de “a Italianinha“:
Da casinha que morava,
Eu vistava toda gente que passava na estrada.
De menhazinha minha vista se espichava
Lá pro meio da estrada
Só pra mode ver a figurinha ingraçadinha
Da minha namorada, a Italianinha.
E ansim era todo dia, de menhazinha quando o sol nascia
E de tardinha quando o sol se ia,
infarlivelmente ela passava, me oiava e me sirria.
Um dia ela não passou, nem no outro, nem depois do outro
E ansim foi uma sumana inteira.
Minha cabeça era uma só zueira,
Passava tanta besteira,
Pensei inté em me asuicidar...
Um dia ela passou,
Mas antes não tivesse passado.
Estava toda vistida de branco,
Como os cafezá em fror,
Como as garça do banhado.
Quando me viu, não sirriu,
Baixou a cabeça e seguiu.
Para todos foi o seu casamento que passou,
Mas para mim que ela judiou,
Para o coração veió que tanto matratou,
Foi seu enterro que passou.
(autor desconhecido)
Rubem Vilas Bôas







